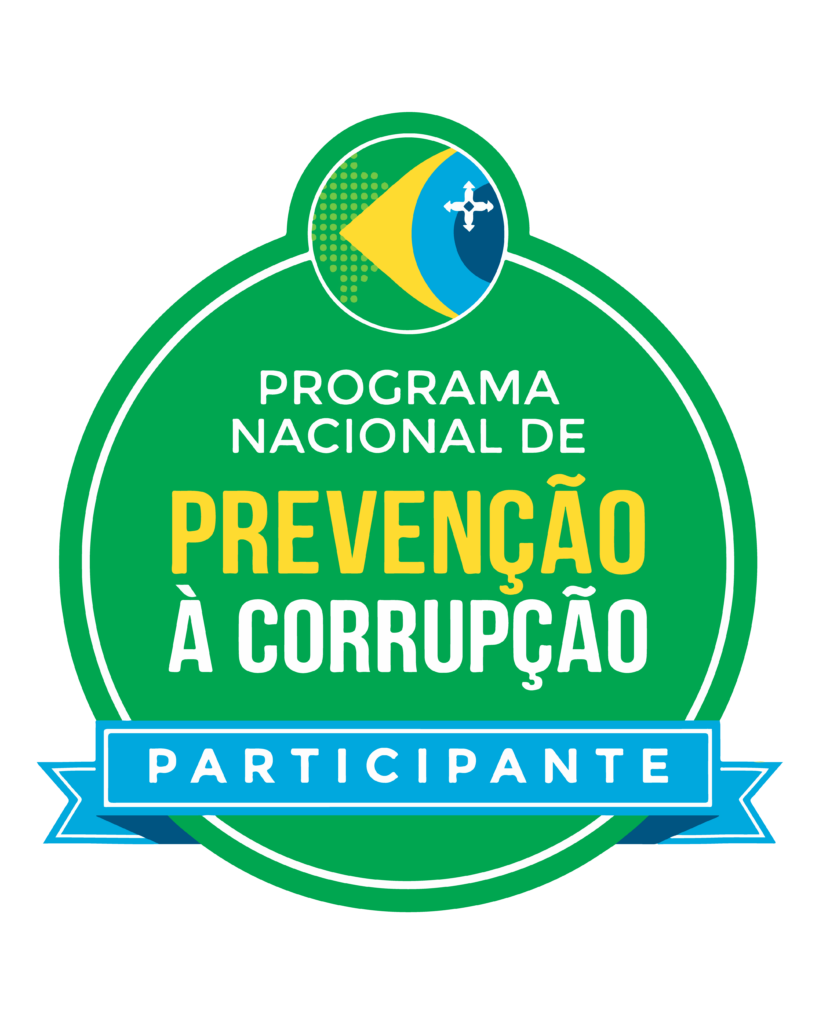A análise dos dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2004,
realizada pelo IBGE, mais especificamente os que dizem respeito à segurança
alimentar, à
luz de outros dados obtidos de forma independente e para finalidade diversa,
permite
desfazer alguns mitos e confirmar algumas teses.
Antes mesmo que os dados da PNAD
2004 estivessem disponíveis, foi imaginado um
trabalho que estudasse o tipo de relação existente entre o modelo de
agricultura praticado
em determinada região e a insegurança alimentar dos moradores da zona rural.
Todos os
dados utilizados nas análises realizadas estão disponíveis no endereço
eletrônico do IBGE
(http://www.ibge.gov.br).
O IBGE faz anualmente a Pesquisa
Agrícola Municipal (PAM), que levanta para cada um dos mais de 5.500
municípios brasileiros, dados sobre área plantada e colhida, quantidade
produzida e valor da produção de 62 espécies vegetais. Os dados do ano de
2004 relativos
ao valor da produção, foram analisados por Unidade
da Federação, para poderem ser
comparados aos dados da PNAD, que não podem ser estimados para o nível
municipal.
Foram considerados, para efeito deste trabalho, como “alimentos” os seguintes
produtos:
azeitona; castanha de caju; palmito; alho; amendoim; arroz; aveia;
batata-doce; batata-
inglesa; cebola; ervilha; fava; feijão; mandioca; milho; tomate; e trigo. No
grupo denominado
“frutas” constavam: abacate; banana; caqui; coco;
figo; goiaba; limão; maçã; mamão; manga; maracujá; marmelo; noz; pêra;
pêssego; tangerina; uva; abacaxi; melancia; e melão. Sob a
designação de “não alimentícias” estavam: algodão (arbóreo e herbáceo);
borracha; chá-daíndia; dendê; erva-mate; guaraná;
pimenta-do-reino; sisal; urucum; fumo; juta; linho;
mamona; rami; tungue; centeio; cevada; malva; e sorgo. As culturas: cacau;
café; laranja;
cana-de-açúcar; e soja foram nomeadas de
“commodities”. Nenhuma dessas classificações é perfeita, pois o linho pode
ser usado como alimento e não como fonte de fibra, parte da produção de
cana-de-açúcar e de laranja é consumida como alimento, assim como a polpa do
cacau e o óleo de soja. O milho em grande parte é utilizado na alimentação
animal e não humana, o trigo também pode ser considerado uma commodity etc.
Mas qualquer outra classificação também não seria exata. É importante dizer
que a escolha dos componentes do grupo foi feita uma única vez e antes de se
conhecerem os valores, tanto oriundos da PAM quanto da PNAD. Lembra-se ainda
que os dados relativos à pecuária não foram
considerados nesse estudo. Na tabela 1 são apresentados os valores para o
coeficiente de correlação entre os percentuais de insegurança alimentar e do
valor da produção agrícola, nas 27 Unidades da Federação.
Tabela 1 – Correlação entre o percentual de insegurança alimentar total (leve
+
moderada + grave) por local de moradia e o percentual do valor da produção
agrícola
por grupo de produtos, nas Unidades da Federação, Brasil, 2004.
Grupo de produtos agrícolas
local de moradia commodities
alimentos frutas não alimentícias
Urbana -0,3329 0,2933 0,2234 -0,1825
Rural -0,4798 0,5397 0,2092 -0,3747
Total -0,4368 0,4582 0,2131 -0,2894
A primeira constatação é que, independente do local de moradia, os grupos
“alimentos” e “frutas” correlacionam-se de forma
positiva com a insegurança alimentar, e os
grupos “commodities” e “não alimentícias” têm correlação negativa. Ou seja,
em 2004, à
medida que no conjunto das Unidades da Federação, aumentava o percentual do
valor da
produção dos grupos “alimentos” e “frutas” entre os 62 produtos estudados na
PAM, a
insegurança alimentar, tanto na zona urbana como na rural e no total do
Estado, também
aumentava. O contrário acontecia com os grupos “commodities” e “não
alimentícias”, para os quais, à medida que o percentual do valor da produção
aumentava a insegurança alimentar diminuía. Os maiores valores de correlação
ocorreram para a insegurança alimentar na zona rural, com os grupos
“alimentos” (correlação positiva) e “commodities” (correlação negativa).
A correlação existente entre a
renda per capita
cada Unidade
(PIB/população, dados do IBGE para 2003) e o
percentual de insegurança alimentar entre os moradores da zona rural, igual a
-0,6760, indica uma dependência negativa e relativamente alta entre essas
duas variáveis.
O resultado observado permite
que se concorde com aqueles que afirmam que, no Brasil, a
fome, ou melhor, a insegurança alimentar, está muito mais ligada
à falta de renda do que
propriamente à falta de alimentos. Embora esta afirmação já tenha sido
incorporada à
maioria dos textos técnicos e mesmo ao discurso político, é importante
ressaltar que se
chegou, de forma totalmente independente, a uma evidência que é compatível
com ela. Ou
seja, os dados obtidos no âmbito da PAM não foram coletados com objetivo de
analisar a
insegurança alimentar nem, por outro lado, os dados da PNAD foram coletados
com o
objetivo de correlacionar a insegurança alimentar
com a produção agrícola.
Na realidade, a correlação
observada entre o tipo de agricultura praticada e a insegurança
alimentar não pode ser atribuída a uma relação de causa e efeito, pois não há
lógica possível
para justificar que em Estados nos quais a produção agrícola é
predominantemente voltada
aos “alimentos”, a insegurança alimentar da população rural seja maior. O que
podemos
supor é que a produção desses gêneros está concentrada em Estados com menor
renda per
capita, a qual, esta sim, é a principal determinante da insegurança
alimentar. Da mesma
forma, a produção das culturas chamadas de commodities é predominante em
Estados com
renda per capita maior e, conseqüentemente, insegurança alimentar menor. Os
valores do
coeficiente de correlação apresentados na tabela 2 corroboram essas
suposições.
Tabela 2 – Correlação entre a
renda per capita (2003), e o percentual do valor da
produção agrícola por grupo de produtos (2004) nas Unidades da Federação,
Brasil.
Grupo de produtos agrícolas
commodities alimentos frutas não alimentícias
Renda per capita 0,3346 -0,3532 -0,1858 0,2778
Isso, de certa forma, valida ou
justifica as políticas de transferência, distribuição ou
suplementação de renda, adotadas pelo governo federal, pois mesmo na zona
rural das
regiões que produzem os alimentos o que determina a segurança alimentar é a
capacidade
de adquiri-los e não sua existência.
De maneira alguma isso descarta
a importância da produção de alimentos de forma
organizada e distribuída regional e geograficamente. Apenas reforça a tese de
que não basta
produzir alimentos (fazer o bolo crescer), é preciso garantir que os
indivíduos tenham renda
para poder ter acesso a eles (dividir o bolo).
A produção de alimentos
localmente está muito mais relacionada à soberania alimentar do
que exatamente com a segurança alimentar. Entende-se soberania alimentar como
a situação na qual uma determinada comunidade, com localização bem definida
no espaço, é
capaz de produzir a maioria dos alimentos de que necessita para o seu
consumo, em quantidade e qualidade suficientes, com respeito as suas
tradições culturais e de forma sustentável no tempo.
Políticas públicas voltadas para
alcançar a soberania alimentar podem contribuir para a
segurança alimentar de diversas maneiras: 1) alimentos tradicionais
geralmente são nativos
ou bem adaptados às condições de clima e solo do local, o que tende a
proporcionar
eficiência à produção, baixando custos e elevando a produtividade; 2) produtos
de consumo
alimentar local, em geral, consumidos in natura, ganham em qualidade ao serem
comercializados imediatamente depois de colhidos (alimentos frescos); 3) a
proximidade
entre produtores e consumidores facilita a logística de distribuição e diminui
o espaço para
intermediários no processo, contribuindo para a redução dos custos ao
consumidor ou
melhor remuneração ao produtor; 4) as relações interpessoais entre produtores
e
consumidores, facilitadas pela proximidade física, podem interferir positivamente
no
compromisso entre esses atores, tanto no compromisso do produtor com a
qualidade
nutricional e sanitária dos produtos e com a conservação ambiental, quanto no
compromisso
do consumidor na preferência pelos fornecedores locais e a disposição em
remunerar de
forma adequada a fonte local de sua alimentação
saudável; 5) a produção local exige mão de
obra e gera renda, o que, como vimos, diminui a insegurança alimentar. É um
sistema que se
retro-alimenta, ou seja, promover a soberania obriga a produção local, que
gera emprego e
renda, que aumenta a demanda por produtos e assim por diante.
*Doutor
pesquisador da Embrapa Meio Ambiente.